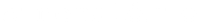por Leandro Luz
Há uma compreensão bastante lúcida por parte dos irmãos Spierig no que tange o ofício de manipular os códigos comumente associados ao cinema de horror. Atmosfera, tensão, monstros, culpa (cristã), sustos: “A Maldição da Casa Winchester” entrega o pacote completo, mas nem sempre uma checklist bem cumprida é sinônimo para um filme perfeito. Perfeição, aliás, está longe de ser um adjetivo ao qual eu atribuiria a este recém-chegado aos cinemas brasileiros, cujos diretores (gêmeos idênticos, inclusive) são os responsáveis por obras como “O Predestinado” (2014), aquela brincadeira inexplicável protagonizada por Ethan Hawke, e o mais recente “Jogos Mortais: Jigsaw” (2017).
Dr. Eric Price (Jason Clarke) é um médico (alcoólatra e viciado nos próprios remédios que deveriam curá-lo) contratado para atestar o grau de insanidade de Sarah Winchester (Helen Mirren), a herdeira do patrimônio de ninguém menos que William Wirt Winchester, dono da Winchester Repeating Arms Company, responsável pela fabricação dos famosos “rifles de guerra que conquistaram o Oeste” e que carregam o seu sobrenome. Interessado apenas no dinheiro, Eric aceita o convite para se hospedar na famosa mansão de “quase cem quartos”, construída e reconstruída pela incansável viúva desde o falecimento de seu marido, levado pela tuberculose. Confiante de que provará sua sanidade e impedirá seus algozes de retirá-la do comando de sua própria empresa (a tentativa de deixar as armas de fogo de lado para fabricar artefatos mais dóceis – como patins para crianças – é frustrada pelos sócios, donos dos outros 50% das ações), Sarah irá deixar bem claro que os seus fantasmas não vivem apenas em sua mente perturbada pelas mais dolorosas lembranças. “No fim das contas o medo é inútil”, repete Eric inúmeras vezes, ocasionalmente para si mesmo. Não deveríamos comprar seu ceticismo. E felizmente o filme não o faz.
Clarke e Mirren demonstram um entrosamento precioso, ambos utilizando-se do humor na construção de seus personagens, e é o embate entre a lucidez de um e a loucura de outro que coloca a história em constante movimento. A mansão ainda é habitada por Marion (Sarah Snook), sobrinha de Sarah, e Henry (Finn Scicluna-O’Prey), seu filho, cuja existência é justificada somente pela materialização primeira dos eventos sobrenaturais que veremos ao longo de todo o filme. A presença dos inúmeros pedreiros, carpinteiros e empregados anônimos da casa confere uma movimentação incomum para um filme de horror (as melhores sequências funcionam justamente por não se pautarem no silêncio e nos espaços vazios que costumam servir, por si só, como muletas para a criação de uma atmosfera de tensão). Acompanhamos Eric pelos corredores da mansão e nos embrenhamos junto com ele pelos misteriosos eventos que ocorrem dia e noite na casa. Sarah o priva de álcool e também de seus medicamentos, e para nossa surpresa, ao passo que o protagonista retoma a lucidez, os eventos sobrenaturais apenas se intensificam.
A câmera que sobrevoa o telhado da mansão e que passeia pelos seus corredores e quartos intermináveis imprime na tela a constante sensação vertiginosa que experimentamos, em primeira instância, através do protagonista. Escadas que conduzem para o nada, janelas que abrem para muros de concreto, portas que levam a lugar nenhum e armários que funcionam como passagens (quase) secretas e dão para corredores e outros cômodos estranhos da casa – tudo faz parte de um grande labirinto, aos poucos revelado e desvendado pelo roteiro um tanto didático, porém inesperadamente repleto de detalhes e ideias promissoras.
Baseado na real história de Sarah Winchester (a recriação da casa, tanto em seu exterior como em seu interior, impressiona – e o CGI ajuda nessa composição), o filme se passa numa Califórnia de 1906 e lida com um universo de culpa e expiação através de seus personagens principais. Descobrimos logo cedo que os fantasmas que assombram o lugar são, na verdade, pessoas que morreram por uma arma Winchester. Garotos que lutaram na guerra, escravos, homens e mulheres inocentes, crianças, assassinos violentos – todo o tipo de pessoa com algum “assunto inacabado” indiscriminadamente acaba se tornando um fantasma, como aponta a tradição das histórias góticas de horror. Aqui não é diferente. Sarah, portanto, é a responsável pela comunicação com esses espíritos e tenta demonstrar seu arrependimento, garantindo algum conforto para que suas almas possam finalmente descansar. Sua tática? Reconstruir os cômodos em que eles foram mortos.
A premissa sugere uma ideologia desarmamentista que jamais se concretiza. Apesar da culpa de Sarah e de suas constantes tentativas de se redimir perante a devastação provocada pelo objeto responsável por prover toda sua fortuna (apesar e a propósito de todo o sangue derramado ao longo dos anos), o roteiro desperdiça todas as chances de ser fiel à sua própria personagem e entrega um terceiro ato covarde, calcado em uma reviravolta lamentavelmente genérica. Ben Block (Eamon Farren, um character actor competente e que você certamente reconhecerá caso tenha assistido à terceira temporada da série “Twin Peaks”) é um dos empregados da casa e revela-se o grande vilão do filme (quando, na verdade, não passa de mais uma vítima dos rifles Winchester). A partir daí, toda a construção de personagens e de trama é praticamente desperdiçada, e nem mesmo a belíssima cena de Eric confrontando seu passado consegue recuperar o baque sofrido aqui. As cenas então passam a alinhar-se aos filmes de horror mais fajutos e repetitivos. O embate entre memória, culpa e redenção dá lugar a “humanos enfrentando espíritos do mal”, e nada mais eficiente do que um homem branco com uma arma na mão salvando o dia para demonstrar como a obra se perde completamente em suas próprias intenções.
Apesar do eficiente trabalho realizado por Matthew Putland e por Vanessa Cerne na cuidadosa composição dos ambientes (a justaposição entre um espelho e uma poltrona resultam numa das cenas mais assustadoras e bem encenadas do filme) e da precisa utilização de cores e texturas exaltadas pelo figurino de Wendy Cork (reparem como o preto e o branco servem de contraste para as personalidades de Marion e de Sarah, ambas viúvas, e como o véu quase sempre presente no rosto desta última a transforma quase em uma assombração no primeiro momento em que a vemos), “A Maldição da Casa Winchester” comete o maior pecado de todos ao trair sua própria proposta. A linha tênue entre a lucidez e a loucura talvez seja o grande tema do filme, desperdiçado na reta final por seus realizadores.
“Por que os sinos batem à meia-noite?”
“É meia-noite, senhor.”
Talvez este diálogo protagonizado por Eric e um dos empregados da mansão em determinada altura da história traduza com precisão o verdadeiro trunfo de um filme de horror. Interessados muito mais em retrabalhar alguns estereótipos do gênero do que em realmente propor algo novo, os irmãos Spierig partem para a construção de um filme que apesar de sua eficiência técnica e de sua curiosa trama, deixamos ele com a sensação de que poderíamos ter testemunhado uma obra muito mais complexa, urgente e aterrorizante. ■
“A Maldição da Casa Winchester” está em cartaz nos cinemas.