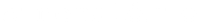Quando “O Rei Leão” foi lançado nos cinemas em 1994, eu estava ainda há alguns anos de começar a ver filmes como parte da minha profissão. Mas eu me lembro muito bem de conversar na escola e na família sobre o filme e ouvir repetidas vezes um comentário em particular: “Nossa, os desenhos da Disney estão cada vez mais realistas!” Isso em razão da suavidade do movimento dos personagens, da riqueza de detalhes nos cenários e do efeito de tridimensionalidade na junção dos planos. Um conjunto de técnicas que, sim, dava uma incrível impressão de realismo a uma animação tradicional realizada um ano antes do início da era Pixar, que mudaria completamente o jogo com seu “Toy Story”, animado por computador. Curiosamente, é com a pecha de ter feito a animação mais realista de todos os tempos que a mesma Disney vende agora a nova versão de uma de suas produções de maior sucesso. Tão realista, que “nem parece animação”, já vi dizerem.
Antes de mais nada, é bom deixar claro uma coisa: animação é filme. Ponto. Até entendo uma pessoa leiga em termos cinematográficos fazer a diferenciação, mas nunca é saudável considerar como “filmes” somente produções feitas em live-action (o famoso “carne e osso”). Isso leva à noção equivocada de que a animação é uma forma inferior da arte cinematográfica ou que não deva ser levada a sério como filmes realizado em live-action. Mas cabe notar que muito dessa percepção se deve à fama que a própria indústria cinematográfica alimentou no imaginário popular ao produzir animações majoritariamente voltadas para o público infantil. A Disney capitaneia esse movimento desde a sua fundação e agora, com o remake de “O Rei Leão”, direta e indiretamente reforça o preconceito.
O novo “O Rei Leão” é cem por cento animação (tudo bem, 99,99%, já que o diretor Jon Favreau revelou recentemente que o primeiro plano foi filmado em locação). E o problema é justamente o filme não parecer ser animação. Ao fazer tamanho esforço para apagar as marcas da tecnologia utilizada, a Disney assume o discurso descrito no parágrafo acima, de que “agora, sim, fizemos um filme de verdade”. O aspecto documental, como se estivéssemos vendo imagens captadas na natureza para canais como Discovery ou National Geographic, sem dúvida engana os olhos em diversos momentos (chamaram até mesmo um renomado diretor de fotografia, Caleb Deschanel, para o trabalho). Mas antes parasse aí, já que de ilusão vive o cinema. O que incomoda é que o projeto do estúdio desrespeita seu próprio legado, levando muita gente (e é muita gente mesmo!) a acreditar que, só agora, “O Rei Leão” é um filme. Antes, não: era um desenho, era para crianças (outro preconceito, como se o público infantil não devesse ser levado à sério). E como a ordem do dia é lucrar com nostalgia, transformar o “desenho” (infantil) em algo hiper-realista (logo, “adulto”) é a oportunidade perfeita para levar o público a revisitar suas memórias, agora tornadas “filme de verdade”.
Da enganadora proposta de fazer um “O Rei Leão” em live-action, a Disney produziu algo pior, uma espécie de anti-animação, tanto no sentido de recusar sua natureza quanto no de deliberadamente querer se colocar como algo superior. O resultado é um filme que, se de início impressiona pela beleza do fotorrealismo, não demora a ficar absolutamente estranho, pois também não consegue parecer um documentário, já que os bichos falam e cantam como no original. Porém, aqui eles perdem suas expressões faciais. Este talvez seja o principal ponto de distanciamento que o filme causa e é a mudança mais radical em relação à animação de 1994, mais até do que o fotorrealismo. Porque, apesar de conversarem, os bichos não demonstram suas emoções e assim, paradoxalmente, deixam de parecer “de verdade”.
Esse curioso fenômeno do “real irreal” se dá porque Favreau e sua equipe impersonificaram os personagens, ou seja, privaram Simba, Zazu, Nala, Timão, Pumba e os demais de qualidades, aspectos pessoais, humanos, justamente o contrário do que a Disney sempre fez muito bem em suas animações clássicas. Enquanto que no traço do primeiro filme, “sobrancelhas” são adicionadas como um contorno acima dos olhos dos leões, por exemplo, na nova versão esse sutil, mas importantíssimo detalhe some por completo. Assim, expressões de tristeza, alegria, dor, surpresa, ficam inteiramente depositadas na dublagem dos atores, gerando uma evidente insuficiência para criar a conexão com as emoções do público – o que chamamos de antropomorfização. Não há efeito Kuleshov que resista.
É estranho que o filme dê esse passo para trás, porque os bichos do remake de “Mogli, o Menino Lobo”, também dirigido por Favreau, não padecem desse problema. Isso porque “Mogli” se permite à “licença poética” e se sai como uma aventura, uma fábula mesmo. Há a sensação de realismo, mas não há uma preocupação de se fazer passar por “real” ou mimetizar um documentário de natureza (o que, em última instância, também é um problema quando notamos que os leões são assexuados e castrados. Devemos acreditar que são bichos de pelúcia, então?).
Pode parecer que eu estou muito apegado a questões que a suspensão da descrença facilmente contornaria, mas mudemos de assunto e falemos agora sobre como o novo “O Rei Leão” falha em sua proposta de “superar” o original também em termos de direção. A já mencionada impressão de realismo que a animação de 1994 passa é graças também ao exímio trabalho de Rob Minkoff e Roger Allers como diretores. Eles utilizam a gramática cinematográfica durante o filme inteiro, da escolha dos enquadramentos aos movimentos de câmera, inclusive adotando efeitos mais comuns de encontrarmos nos filmes feitos em live-action.
É o que se pode dizer do uso do rack focus (em que o foco é alternado rapidamente de um elemento para outro no mesmo plano). Favreau utiliza esse efeito para reforçar o tal “tom documental” de seu filme, mas o rack focus já estava presente na animação original, de uma maneira tão ou mais fluida, enquanto Simba passeia pela savana. Já um exemplo em que Minkoff e Allers são muito mais bem-sucedidos que Favreau está na cena em que Simba percebe estar em apuros no desfiladeiro quando da debandada de gnus. No filme original, há um dolly zoom no protagonista, de modo a ressaltar a sensação repentina de espanto que ele sente ao perceber o perigo que se aproxima. É um efeito que poderia ser potencializado no remake, com seu hiper-realismo fotográfico, mas que Favreau ignora.
Digno de nota também que, enquanto o novo filme esconde o jogo, a animação de 1994, por mais que preze pelo realismo, nunca deixa o público “esquecer” de que está vendo um filme, seja pelo número musical supercolorido e inventivo da canção “I Just Can’t Wait To Be King”, seja pela quebra da quarta parede, no diálogo em que Timão e Pumba mencionam a presença de crianças do outro lado da tela, para a surpresa de Simba. A metalinguagem é um recurso moderno, usado até com certa frequência em animação. E é ainda mais poderoso nos filmes em live-action quando surge inesperada e invisivelmente, dando aquele leve estalo mental que repercute num sorriso no canto da boca. É quando nos damos conta de que estar no cinema, diante de um filme, é um privilégio, já que nos permitimos, por algum momento, sair da realidade ou, pelo menos, vê-la com uma certa distância — o que vale para ficção e documentário.
É fato que a reprodução do real é uma questão para cineastas desde a chegada do trem à estação, e uma questão praticamente mítica, tensionada durante toda a história da arte. É a lição de Hitchcock em “Um Corpo que Cai”, da busca maldita pela reprodução perfeita de uma realidade que não está ao nosso alcance (até porque tal realidade era uma farsa em primeiro lugar). O “parecer real” já havia sido alcançado com glória por Minkoff e Allers. Mas ao querer “ser real”, Favreau entra numa armadilha: tenta sair vencedor de um jogo sem fim de comparação entre realidade e representação, o que afeta diretamente a nossa percepção e o nosso envolvimento com seu filme.
O grande problema do novo “O Rei Leão” é a instabilidade de sua proposta narrativa, resultando numa notável falta de entrega às potencialidades seja da animação, seja do live-action. Pior ainda é que esse projeto de remakes seja validado em nome do dinheiro fácil. O traço estilístico de um estúdio de animação é um estatuto. Pisar nisso prova o quanto a Disney, ao mesmo tempo em que amplia seu domínio econômico, reduz sua relevância artística. ■

Editor-chefe e criador do Cinematório. Jornalista profissional, mestre em Cinema pela Escola de Belas Artes da UFMG e crítico filiado à Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema) e à Fipresci (Federação Internacional de Críticos de Cinema). Também integra a equipe de Jornalismo da Rádio Inconfidência, onde apresenta semanalmente o programa Cinefonia. Votante internacional do Globo de Ouro.