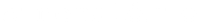Assistir a “Projeto Gemini” é como estar diante da demonstração de uma nova tecnologia. Ao invés de ir ao cinema para ver um filme, a sensação é a de entrar numa dessas atrações de realidade virtual de parques temáticos: até existe alguma narrativa ali, mas a razão de tudo que passa na tela existir é o aparato e sua inovação. O “projeto” do título brasileiro, então, veio a calhar.
Dizer isso sobre um filme dirigido por Ang Lee chega a doer. Afinal, embora seja mais reconhecido por dramas independentes, como “O Segredo de Brokeback Mountain”, “Tempestade de Gelo” e “Razão e Sensibilidade”, o cineasta taiwanês já havia se saído bem em suas incursões anteriores com produções de entretenimento de massa. “O Tigre e o Dragão”, “As Aventuras de Pi” e “Hulk” (mesmo que boa parte dos fãs da Marvel torçam o nariz) são filmes com substância. Sendo assim, era de se esperar que “Projeto Gemini” trouxesse algo relevante para além da parafernália tecnológica. Mas não é isso que ocorre.
O filme dá sequência à tentativa anterior de Lee em filmar em 3D e com alta taxa de quadros (High Frame Rate ou apenas HFR). Em 2016, ele falhou com o drama de guerra “A Longa Caminhada de Billy Lynn”, que teve pouco espaço nos EUA e sequer foi exibido nos cinemas brasileiros (acabou lançado apenas em DVD e sem nenhuma divulgação). Mas, pelo menos, é um longa que sobrevive sem a tecnologia e conta uma boa história.
Já com “Projeto Gemini” acontece o contrário: o filme pode ser desfrutado no novo formato pelo público brasileiro, mas a inovação para aí. A trama sci-fi, que coloca um assassino de elite (papel de Will Smith) mano a mano com uma versão mais jovem e clonada dele mesmo, não apresenta nada novo para o gênero e tampouco oferece alguma reflexão interessante sobre a relação do homem com a ciência. O que é um paradoxo, se pensarmos que o filme representa essencialmente um novo tipo de relação do espectador com a tecnologia que o apresentou à arte cinematográfica.
A ideia original de Lee era exibir “Projeto Gemini” em 3D e na altíssima taxa de quadros com a qual filmou: 120 quadros por segundo (contra os 24 quadros por segundo historicamente usado na maioria dos filmes). Porém, nem nos Estados Unidos existe um número significativo de cinemas capazes de projetar o filme do jeito que Lee gostaria. Sendo assim, a solução para preservar pelo menos parte da experiência pretendida pelo diretor foi reduzir o HFR para 60 quadros. No Brasil, segundo a Paramount Pictures, cerca de 430 salas receberam o longa nesse formato, que o estúdio está chamando de “3D+”.
Em minha experiência com o filme, suas imagens pareceram muito límpidas e fluídas. São bonitas, mas, acima de tudo, diferentes, já que fogem do padrão daquilo que crescemos entendendo por “imagem de cinema”. Se buscarmos outro parâmetro, o que está na tela também não é imagem de televisão. Na verdade, eu diria que chega mais perto de imagem de videogame de última geração. Logo, há sim uma evidente estranheza, embora, se comparado a “O Hobbit” (que vi em HFR de 48 quadros), “Projeto Gemini” foi visualmente bem mais confortável. O fato é que qualquer mudança de frame rate é perceptível ao nosso olhar e causará estranhamento. Seja no filme todo ou em partes, seja a intenção tecnológica ou dramática, quando um diretor toma essa decisão estética ele está lidando diretamente com a sensibilidade do nosso sistema óptico. É uma questão biológica e cultural.
Daí haver diferença também no 3D desse novo formato, já que até as câmeras precisaram ser modificadas para Lee poder filmar em 120 quadros. Nas cenas onde a tridimensionalidade foi bem captada (ou eu deveria dizer “renderizada”?), tive uma sensação mais nítida de ver o filme “saltar” da tela, assim como me pareceu mais natural observar a profundidade dos espaços. E nesse último quesito cabe mencionar que as cenas fotografadas com maior profundidade de campo contribuem sobremaneira para a percepção desse efeito (o que, diga-se, já valia para o “3D normal”).
As sequências de ação, como a perseguição de moto filmada com plano subjetivo, também são beneficiadas e se tornam o destaque do filme. E a inovação de “Projeto Gemini” está justamente nisso: nos usos que faz da nova tecnologia. Mas cabe refletir sobre as reais intenções do investimento nela. Precisamos mesmo de uma “nova forma de cinema”? Ora, vejamos: primeiro, eliminam o grão e a película e nos dão as imagens lisas e cristalinas do digital em alta definição. OK, houve nisso um benefício econômico claro e rápido, que possibilitou fazer cinema a muita gente que antes não podia. Mas o que dizer dos óculos incômodos que depois nos empurraram, muitas vezes por um efeito 3D que nada acrescenta? E agora, até o movimento das imagens eles querem mudar? Não é o modo de ver que precisa ser inovado. É o modo de produzir que precisa mudar. Até que haja uma evolução artística no uso dessas ferramentas, qualquer incremento não terá passado de mais uma artimanha hollywoodiana para encher mais cofres e baldes de pipoca.
Como mencionado anteriormente, podemos e devemos esperar mais de Lee, que agora abriu totalmente mão de contar uma boa história não para explorar arroubos estéticos (antes fosse), mas apenas em favor testar novas tecnologias. No plural, porque, não bastasse o “3D+” ser uma novidade que captura a nossa atenção, o filme ainda se aventura no campo da animação computadorizada para representar o clone de Will Smith. No passado, a solução seria usar maquiagem e próteses faciais no ator para fazê-lo parecer mais jovem ou mais velho. Hoje em dia, o que está na moda é a “maquiagem digital” adotada em “Capitã Marvel” e “O Irlandês”, por exemplo. Porém, Lee não quis nenhuma dessas técnicas e optou por criar uma versão totalmente CGI de Smith a partir da captura de sua performance. E o resultado, infelizmente, beira o desastre.
São poucas as cenas em que o clone parece uma pessoa de verdade. A animação digital ainda é incapaz de mimetizar com perfeição as sutilezas das expressões faciais. E não só isso: o gestual corporal também possui uma artificialidade flagrante. Eu inclusive arrisco dizer que o HFR contribui para essa percepção. Afinal, se aqui a imagem em movimento “de carne e osso” já nos parece diferente do natural cinematográfico, a sua versão “virtual” fatalmente dobraria o estranhamento. Exceto, talvez, para quem ainda afirma que o novo “O Rei Leão” é live-action. Para esses, o clone deve ser também uma versão “de verdade” do Will Smith, certo? Provocação à parte, e para não ser totalmente injusto, há momentos em que a ilusão funciona. E, não por coincidência, isso ocorre em cenas onde a fonte de luz é artificial e, por isso, manipulável. Nas cenas em que há luz solar no ambiente, note como a iluminação que incide sobre a pele do clone o faz parecer um boneco de massa de modelar perto dos atores. E ironicamente, o nome do personagem ainda por cima é “Clay” (argila).
O que acaba sendo mais intrigante em “Projeto Gemini” é esse modo como o orgânico e o artificial se apresentam lado a lado e suscitam diferentes embates: narrativo (o protagonista vs. sua cópia), tecnológico (HFR e 3D+ vs. CGI e animação) e conceitual (simulacro vs. simulação — um brinde a Baudrillard!). O que o filme não consegue estabelecer é um embate filosófico ou existencial que poderia surgir de um simples questionamento sobre a profissão do protagonista. Ele ganha a vida matando gente, mas acaba se tornando alvo não só de quem o paga para matar, como também de uma versão dele mesmo, criada e treinada exclusivamente para ser uma máquina assassina. Mas talvez seja esperar demais que ele perceba o paradoxo em que está metido, já que precisou executar mais de 70 pessoas para sentir um mínimo de remorso pelo que faz. Esse contrassenso passar batido por Lee é provavelmente o principal sintoma do quanto ele se envolveu muito mais com a parte técnica do que com a porção humana do filme.
David Benioff (de “Game of Thrones”) e Billy Ray (“Capitão Phillips”) assinam o roteiro que foi filmado por Lee, mas a ideia original é do pouco conhecido Darren Lemke, que escreveu o primeiro tratamento do roteiro em, pasmem, 1997. Lá atrás, o filme talvez chamasse a atenção sem o gimmick tecnológico. Hoje, só pela história, não traz novidades, seja para uma ficção científica, seja para um filme de ação e espionagem. Já no futuro, a depender dos desdobramentos que proporcionar à indústria e à arte audiovisual, creio que esse estranho experimento poderá ser considerado, pelo menos, um nobre fracasso. ■
PROJETO GEMINI (Gemini Man, 2019, EUA, China). Direção: Ang Lee; Roteiro: David Benioff, Billy Ray, Darren Lemke; Produção: Jerry Bruckheimer, David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger; Fotografia: Dion Beebe; Montagem: Tim Squyres; Música: Lorne Balfe; Com: Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong, Linda Emond; Estúdios: Skydance, Jerry Bruckheimer Films, Fosun Pictures, Alibaba Pictures; Distribuição: Paramount Pictures. 117 min

Editor-chefe e criador do Cinematório. Jornalista profissional, mestre em Cinema pela Escola de Belas Artes da UFMG e crítico filiado à Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema) e à Fipresci (Federação Internacional de Críticos de Cinema). Também integra a equipe de Jornalismo da Rádio Inconfidência, onde apresenta semanalmente o programa Cinefonia. Votante internacional do Globo de Ouro.