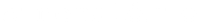Difícil missão essa de tentar colocar em palavras escritas tudo que “A Vida Invisível”, de Karim Aïnouz, transborda. Talvez eu deva partir exatamente deste gancho, do transbordar que remete à força das águas, da natureza. Porque é exatamente assim que o filme começa: nos inserindo numa paisagem natural de muito verde e sons vigorosos. Há montanhas, árvores, o mar e duas mulheres que se espelham e em seguida se perdem e se buscam, Eurídice e Guida, interpretadas brilhantemente por Carol Duarte e Julia Stockler. Parecem livres ali, mas, ao mesmo tempo, não parecem seguras. E, a partir do momento que se separam, tudo fica um tanto sombrio neste lugar que seria de tranquilidade. Não à toa, o vermelho invade a tela, primeiro no contraste das letras dos créditos iniciais e depois em todo o quadro quando surge o título. Não há como negar, algo de muito violento está por vir. E não é natural, não pode ser visto como natural. Ainda que o cenário que as cerca pareça belo, bucólico e protegido, são só aparências.

Essa sequência inicial carregada da dualidade entre a aparência e o oculto, entre criação e destruição, vida e morte, já serve a um questionamento presente em todo o filme quanto ao conceito de família “de sangue” — permeada por vermelho, portanto — tido como sagrado e fundador da sociedade, mas que é atravessado por violências diversas que as pessoas são levadas a esconder ou fingir que não acontecem. Há nas relações familiares uma dimensão de conflitos, ódios e exercícios de poder que pouco é exposta. Principalmente no que diz respeito às mulheres, que, historicamente, vêm sofrendo opressões e silenciamentos de todo tipo, impostos pelo que se convencionou chamar de “a base de tudo”, num sentido positivo de família como afeto e compartilhamento de valores essenciais, mas que também é base para um sistema patriarcal cruel. Tão cruel que no filme temos a impressão de se tratar de uma espécie de complô entre os homens — pai, marido, neto, médico, o funcionário público etc. –, uma manipulação que vai se sustentando entre gerações com práticas, saberes e tecnologias que produzem os sujeitos dominantes e dominados.
Na história, adaptação livre de um romance de Martha Batalha, Eurídice e Guida são jovens irmãs que vivem com os pais no Rio de Janeiro, nos anos 1950, e, apesar de diferentes, nutrem grande carinho entre si. Uma família conservadora típica, o que significa dizer que as irmãs devem cumprir os papéis reservados a elas de mulheres cuidadoras do lar e que tenham o casamento como principal objetivo. Mas Eurídice sonha em ser pianista e Guida quer ter liberdade para viver suas paixões sem amarras. Por conta de seus desejos que conflitam com o que lhes é imposto, elas acabam sendo separadas pelos próprios pais, vivendo distantes e sem notícias uma da outra. Guida é enganada e levada a pensar que a irmã tem sucesso, estudando e tocando piano em Viena. Assim também acontece com Eurídice, que imagina a irmã vivendo seu grande amor na Grécia. As vidas imaginadas são o oposto também da realidade de quem imagina, pois Guida passa por dificuldades financeiras, trabalhando em péssimas condições e cuidando de um filho sem o pai, enquanto Eurídice vive um casamento sem nenhum afeto e a maternidade compulsória.
A construção social que se impõe sobre os corpos e vivências das mulheres e delineia as diferenças é o cerne dessa história. A escolha pelo melodrama — caracterizado na divulgação do filme como “tropical”, afirmando sua brasilidade — tem uma importância discursiva que se reconhece na definição deste gênero narrativo como investigação sobre uma “moral oculta”. Segundo Peter Brooks, estudioso que se contrapõe às críticas simplistas ao gênero, a moral oculta é “o domínio de forças espirituais e imperativos que não é claramente visível na realidade, mas o qual, acredita-se, nela está agindo, e que exige ser revelado”.¹ O filme revela e registra, pois, o imperativo patriarcal em cada detalhe do cotidiano das protagonistas. As mulheres e suas vozes, desejos e sentimentos que são silenciados desde o núcleo familiar até outras esferas da sociedade. Além disso, o melodrama tem lugar de destaque na cultura popular e oferece aqui a discussão política e crítica feminista por meio das relações pessoais, da “vida comum” das personagens. O íntimo como potência para o reconhecimento coletivo.
Por tantas vezes o melodrama serviu a histórias de amor romântico e aqui, o amor só acontece entre mulheres amigas e sua rede de apoio. O afeto entre irmãs, perdurando apesar da distância, e a amizade entre vizinhas que se ajudam nas dificuldades e são a verdadeira família, destacando-se a personagem Filomena (Bárbara Santos), uma mulher negra que trabalha como babá para cuidar das filhas de mulheres de uma região periférica do Rio. A separação de Eurídice e Guida tornou-se, portanto, uma estratégia de enfraquecimento de ambas, pois juntas seriam mais fortes. Além de, claro, evidenciar o quanto o patriarcado e as tradições familiares se sentem ameaçadas pelas transgressões femininas, acionando como forma de controle a exclusão do que é fora dos padrões, no caso, por exemplo, de Guida e seu “bastardo”.
O filme também se vale de sutilezas e sensibilidade dos significados das pequenas coisas. O calor, tão característico do Rio de Janeiro, assim como em “Mormaço” (2019), filme de Marina Meliande, é muito mais do que um efeito climático, mas também a constante sensação de desconforto, tensão e aprisionamento a que essas mulheres estão submetidas, tanto a nível físico quanto psicológico. Assim como o vestido de noiva desajeitado e maquiagem borrada de Eurídice, em uma das cenas mais fortes e tristes do filme, a noite de núpcias, onde o corpo dela está o tempo todo em negação àquela situação até que desiste e deixa de ser reativo por não ter como fugir. Chama a atenção, também, a cena em que o marido de Eurídice (Gregorio Duvivier) brinca com a filha do casal, que, claramente, não gosta do modo como ele escolhe fazer isso: usando uma mão que a persegue. O motivo do desconforto pode passar despercebido, por ser uma brincadeira comum, mas já há ali há uma ideia de ameaça e apoderamento.
Interessante perceber esse trabalho de diferentes linguagens servindo ao gesto do filme de revelar o que é oculto com a necessária interpretação do espectador. Além do corpo que fala em cada imagem, há Guida que fala pelas cartas e Eurídice por meio do piano. Mas nem as palavras e nem a música chegam ao seu destino. São lamentos, esperanças e saudades colocadas no mundo, mas sem retorno. O retorno, então, só é possível fora do quadro, na interpelação de quem está diante da tela. Somos levados a olhar para nossa ancestralidade, para como se formaram nossos núcleos familiares, para nossas mães, avós, tias, que muitas vezes nem sabemos de seus sonhos e histórias. Também traçamos uma espécie de linha evolutiva da resistência e luta feminina, entendendo a importância dessas mulheres que nos antecederam e nosso papel de continuidade, ruptura e projeções para um futuro.
No caso dos homens, a interpelação é pelo deslocamento de sua posição de privilégio para o desconforto necessário de pensar e sentir a partir das vivências das personagens protagonistas. Tão importante para tal é a atmosfera imersiva que o filme proporciona, com destaque para o uso das cores saturadas, a granulação e fotografia marcante de Hélène Louvart (“Pina”, “As Praias de Agnès”, “Lazzaro Felice”), e sequências com tom onírico e delirante. A desconstrução urge. E voltando ao caminho inicial deste texto de lembrar a força das águas, quando o filme termina são as águas de dentro que não se contêm. O choro foi minha catarse, inspirada, também, pela atuação grandiosa de Fernanda Montenegro — em acenos à Dora e suas cartas, de “Central do Brasil” (1998), de Walter Salles. E acredito que a catarse seja igualmente inquietante para tantas outras pessoas que reconhecem na obra uma reivindicação feminina do ser, do existir com liberdade, que no tempo do filme está no passado, mas reflete fortemente nos dias atuais. Lembrando, inclusive, que chorar ou se emocionar de maneira evidente é, na cultura machista, visto como característica de feminilidade e, deste modo, como inferior. O filme, assim, nos convida a outro gesto revelador. ■

¹MEIRELLES, Carla Fernandes. Prazer, Resistência, Ideologia: Narrativas melodramáticas, construção da feminilidade e crítica feminista. Trabalho de Conclusão de Curso. Rio de Janeiro, 2006.

Editora, crítica de cinema e podcaster do Cinematório. Filiada à Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema) e membra do Elviras – Coletivo de Mulheres Críticas de Cinema. Jornalista profissional pela UFMG e com formação em Produção de Moda pela mesma instituição. É cria dos anos 90 e do interior de Minas.