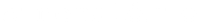Na franquia da Disney, a história não é contada de forma não-linear como em “Pulp Fiction”, mas os personagens morrem e voltam da mesma maneira. Podemos observar isso já no fim de “O Baú da Morte”, quando o Capitão Barbossa (Geoffrey Rush) retorna dos mortos, para a surpresa de quem o havia visto ir desta para melhor no filme original – onde, vale lembrar, ele já começava semi-morto graças à maldição de um tesouro roubado. Só que não é dada nenhuma explicação para o ressurgimento de Barbossa em “No Fim do Mundo”. A feiticeira Tia Dalma (Naomie Harris) diz apenas que só conseguiu trazê-lo de volta porque ele estava “simplesmente morto”, e não aprisionado em uma realidade fantasma como Jack Sparrow (Johnny Depp), a quem Will Turner (Orlando Bloom), Elizabeth Swann (Keira Knightley) e cia. precisam salvar no começo da nova aventura.
A verdade é que todo mundo já sabia que Jack não havia realmente morrido, mesmo que tenhamos visto ele ser engolido junto com seu navio Pérola Negra pelo monstro Kraken no desfecho do filme anterior. As propagandas e trailers do novo longa já mostravam Johnny Depp de volta à ação, logo, essa era a menor das preocupações do público. O que é curioso nisso é que, hoje em dia, em filmes de fantasia principalmente, já existe essa expectativa de que os personagens não morrem de verdade.
Este não é um fenômeno surgido nos anos 90 (afinal, Tolkien já havia ressuscitado o mago Gandalf em “O Senhor dos Anéis” quase 50 anos antes de Ian McKellen trocar a roupa cinza pela branca na trilogia de Peter Jackson), mas que certamente incidiu com mais freqüência no cinema a partir dessa década. Também podemos encontrar exemplos nas franquias “Alien”, “X-Men” e “Matrix”, mas o que chama a atenção particularmente em “Piratas do Caribe” é que os roteiristas Terry Rossio e Ted Elliott exploram a imortalidade de seus personagens sem reservas: na missão de resgate de Jack Sparrow, essa nova regra do jogo é maximizada, não por trazer o pirata de volta, mas por vermos praticamente todo o elenco principal ser morto em uma cena e conseguir voltar à vida logo mais.
Rossio e Elliott, que estão no ramo da fantasia desde o início de suas carreiras, sabem como ninguém brincar com essa noção contemporânea de que, nesse gênero, a morte não tem nada de morta. E se “Piratas do Caribe” caiu no gosto do público, é justamente por sua irrealidade e sua absurdidade terem subido um degrau além. A série sofre de um problema crônico de excesso de informação que torna os enredos bem mais complexos (na verdade, uma confusão que se faz passar por complexidade) do que o ideal para um filme-pipoca. Mas sua distinção em relação às outras franquias está na crescente expansão de sua inventividade, que proporcionalmente exige do público uma imersão cada vez maior na imaginação de seus criadores para que a experiência possa ser totalmente aproveitada.

Editor-chefe e criador do Cinematório. Jornalista profissional, mestre em Cinema pela Escola de Belas Artes da UFMG e crítico filiado à Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema) e à Fipresci (Federação Internacional de Críticos de Cinema). Também integra a equipe de Jornalismo da Rádio Inconfidência, onde apresenta semanalmente o programa Cinefonia. Votante internacional do Globo de Ouro.