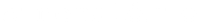por Leandro Luz
A linha tênue entre justiça e vingança é uma antiga obsessão dos roteiristas hollywoodianos. O embate entre o homem branco e a população nativa americana também. O faroeste talvez seja o gênero mais sufocado por essas questões, e não é à toa que Taylor Sheridan lança mão de seus recursos estilísticos e deposita toda a sua confiança no desenvolvimento desses temas para construir os próprios roteiros.
Figura já bastante conhecida na indústria – ator-modelo em diversas séries de investigação criminal (“CSI” e suas inúmeras variações, “NCIS: Los Angeles”) e roteirista dos badalados e premiados “A Qualquer Custo” (Hell or High Water, de David Mckenzie, 2016) e “Sicário: Terra de Ninguém” (Sicario, de Denis Villeneuve, 2015) – Sheridan dá mais um passo corajoso em sua carreira ao assumir as rédeas de “Terra Selvagem”, agraciado com o prêmio de melhor direção na mostra Um Certo Olhar, em Cannes. Desta vez, com um roteiro cujas semelhanças com os dois filmes citados anteriormente são suficientes para formar uma espécie de “trilogia da fronteira” (como ele informa em entrevista a Matt Goldberg, do site Collider), Sheridan se recusou a oferecê-lo a outros diretores e reuniu o orçamento necessário para dirigir o seu primeiro longa-metragem baseado numa obra de autoria própria – sua única experiência na direção havia sido com “Vile” (2011), típica produção de estúdio roteirizada por terceiros. Se nos outros dois filmes dessa trilogia informal as ações dos personagens guardavam a ambiguidade necessária para que fôssemos capazes de nos conectar com eles, em “Terra Selvagem” não é diferente. Entretanto, no final das contas, o discurso da vez soa completamente grosseiro e assustadoramente perigoso.
Jane Banner (Elizabeth Olsen) é uma jovem agente do FBI responsável por investigar um suposto caso de assassinato ocorrido na Reserva Wind River, localizada no estado de Wyoming. Na realidade, o diretor se concentra ainda mais em registrar de perto Cory Lambert (Jeremy Renner), espécie de rastreador de animais/caçador local. Logo, os dois se unem para desvendar o caso e encontrar os responsáveis pelo crime. O grande mérito aqui é justamente o esforço tanto do roteiro quanto da direção em conciliar um estudo de personagem dissolvido em cenas de ação muito bem arquitetadas e ambientadas. Apesar da estreita relação com os nativos americanos, Cory claramente não compartilha da mesma etnia de sua ex-esposa e amigos. O enunciado está posto. A trama que emergirá a partir desses conflitos étnicos ganha força na medida em que o passado e a inquietação dos protagonistas também são dispostos em primeiro plano. A bandeira dos Estados Unidos erguida de cabeça para baixo no telhado de uma das casas da Reserva é uma forma bem sucinta de evidenciar tudo isso.
A branquidão da paisagem impressiona desde o primeiro frame. Os planos muito abertos compõem a primeira sequência de “Terra Selvagem”, com uma mulher, ainda desconhecida para nós, que cruza à noite, de uma extremidade à outra da tela, um inferno gelado, branco e hostil. Desta forma, somos mergulhados imediatamente naquele universo, e verdade seja dita: a magistral trilha sonora composta por Nick Cave e Warren Ellis contribui descomedidamente para tal. O piano e o coro de Cave se mesclam ao vento e à paisagem sonora como um todo, criando um híbrido de trilha-ambiente onipresente. “Far from your loving eyes”, sussurra o cantor numa cena chave do filme. O violino de Ellis é preciso ao evocar tensão e melancolia sempre que necessário.
Tecnicamente, aliás, as decisões tomadas pelos departamentos artísticos me parecem quase todas acertadas. O design de produção de Neil Spisak, a direção de arte de Lauren Slatten e o figurino de Kari Perkins estão harmonicamente conectados, trazendo texturas e informações minuciosas sobre os personagens e a região em que se encontram – o despreparo de Jane, por exemplo, ao chegar à Reserva sem as roupas de frio apropriadas dizem tanto sobre ela como o fato de vestir as roupas de Natalie (a garota assassinada, interpretada por Kelsey Asbille) também permite que a história avance com o impacto necessário. A fotografia de Ben Richardson é objetiva e sem firulas, como podemos notar numa sequência de flashback que é introduzida com um engenhoso raccord. Evitando reiterar a situação ao não utilizar nenhum tipo de filtro na imagem que diferenciasse o presente do passado, Richardson se mantém sóbrio, apostando no trabalho de montagem de Gary Roach (colaborador frequente nos filmes de Clint Eastwood) e jamais duvidando da inteligência do espectador.
Importante deixar claro que essa mesma sequência, apesar de ser muito bem executada, é também permeada por escolhas extremamente questionáveis em termos de roteiro. Aqui ficamos sabendo como Natalie fora brutalmente espancada e estuprada, levando-a a fugir descalça pela noite até morrer sozinha no meio da floresta congelante. O conceito em si já é problemático, pois explica de forma bastante didática exatamente como a situação fora conduzida pelos agressores. Isso sem contar a (no mínimo) discutível representação do estupro, brutal e bastante gráfica. O pior é constatar que a sequência é uma peça fundamental para justificar os atos injustificáveis de determinado personagem mais adiante na trama. Ou seja, estamos diante de uma muleta de roteiro que além de ser questionável em sua concepção, ainda serve para reforçar o principal e problemático discurso do filme.
Para discorrer melhor sobre isso, preciso me aprofundar na trama e inevitavelmente esbarrarei em algumas questões que podem revelar aspectos importantes que poderão estragar a experiência de quem ainda não assistiu ao filme.
Os motivos que levam Cory a ajudar Jane na investigação remetem diretamente ao seu passado, e não apenas ao fato de conhecer bem as pessoas e a região. Divorciado, vive solitário e imerso no trabalho, se dispondo apenas a tentar criar laços com seu filho Casey (Teo Briones), tarefa dificultada pelas lembranças que guarda de sua filha falecida (provavelmente nas mesmas condições sofridas por Natalie) alguns anos antes. Interessante notar como essas informações são levantadas gradualmente ao longo de todo o filme, evitando diálogos muito expositivos – apesar de incluir algumas frases de efeito um tanto quanto piegas aqui e ali. As motivações de Cory estão frontalmente aliadas à sensação de injustiça que sente por ter perdido sua filha de 16 anos e nunca ter encontrado os culpados. Renner é um bom ator e consegue atribuir peso ao personagem que parece já há muito acostumado com a dor – os olhares duros e a expressão fechada são contrapostos à sensibilidade presente nos momentos de ternura com o filho e no bom humor dos diálogos com Jane. Infelizmente, Sheridan não dá muito espaço para que ele desenvolva mais a sua persona e reforça, em três cenas muito específicas, o discurso que procura transmitir.
Em uma delas, Cory confronta Pete (James Jordan), um dos principais responsáveis pela morte de Natalie. Baleado e se arrastando pela neve, Pete implora para que seu oponente não o mate. Cory atende seu pedido, mas não sem antes torturá-lo psicologicamente, deixando-o para morrer exatamente da mesma maneira como a mulher que estuprou e espancou. Obviamente a situação é muito delicada e a construção do personagem é tão rica e as suas motivações são tão fortes que somos capazes de compreendê-lo e condená-lo ao mesmo tempo. Ora, tortura e assassinato jamais serão justificáveis, certo? O problema é que o diretor parece não entender a dimensão do próprio discurso. As razões que o conduzem e o motivam a levantar questões importantes como o preconceito e a situação precária vivida pelos nativos americanos em seu país são as mesmas que ofuscam também o seu senso ético e moral. As boas intenções aqui e a justiça se confundem com masoquismo, sobretudo pela maneira como o diretor estabelece a encenação e enfatiza graficamente os acontecimentos dentro do quadro. Nas outras duas cenas as quais me referi anteriormente, Cory e seu amigo Martin (Gil Birmingham), pai de Natalie, conversam sobre a vida e a dificuldade em se conviver com o luto. Nas entrelinhas, o que se percebe é um acordo e uma constatação de que algo precisa ser feito para que a justiça seja finalmente cumprida. É embaraçoso, portanto, a maneira como o próprio filme se rende aos argumentos legítimos, porém equivocados de seus personagens.
Para além de toda essa interpretação, há também um ponto incontornável de representação envolvendo a ausência de um protagonismo por parte dos próprios nativos americanos. À exceção de Martin e Ben (Graham Greene, o “xerife” local), que apesar de ganharem algum destaque, nunca participam ativamente das ações como Cory e Jane, os grandes protagonistas brancos da obra, o que vemos são diversos outros personagens que aparecem de soslaio, muitas das vezes agindo de modo a suscitar uma leitura exótica sobre eles ou proferindo comentários machistas – como quando Jane chega à Reserva e é imediatamente preterida pelo simples fato de ser mulher. Olsen, aliás, mesmo ganhando um bom tempo de tela e fazendo um trabalho competente, pouco consegue se expressar pela ausência de substância de sua personagem. O mesmo tratamento é imposto a Julia Jones, que interpreta Wilma, a ex-esposa de Cory.
Não estou querendo limitar a construção dos personagens ou afirmar que eles não devem tomar decisões questionáveis ou exalar preconceitos, mas essas ações precisam ser conduzidas a partir de um desenvolvimento consistente e respeitoso. Em “Terra Selvagem” não há espaço para isso, relegando a grande maioria de seus personagens a um tratamento unidimensional nesse sentido. E se o objetivo de Sheridan era dar voz a essas minorias e denunciar o tratamento sistematicamente criminoso e desleal por parte das pessoas em relação a determinado grupo étnico, o que se consegue de fato é a perpetuação velada do velho e ultrapassado discurso discriminatório. ■
“Terra Selvagem” está em cartaz nos cinemas.